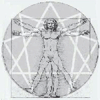Excerto de “A Busca”, Jean Sulzberger (org.), trad. Octavio Mendes Cajado. Pensamento, 1989.
Que significa buscar, ser um buscador? A palavra é grande demais para ser usada com leviandade, pois está ligada à visão; não a essa espécie de visão física, que partilhamos com os animais, mas à percepção interior, peculiar ao ser humano, que constitui um dos seus mais altos atributos. Ou talvez eu devesse dizer o seu mais alto atributo possível, pois nem todos podem “ver” dessa maneira e, por certo, nem todos podem intitular-se buscadores. O buscador é a oportunidade que tem a humanidade para crescer, pois ele não está satisfeito, não está seguro das suas respostas, não “chegou a uma conclusão”. Quer mais; é uma pessoa com uma pergunta ativa, com uma busca; em outras palavras, é um herói.
Talvez só possamos aspirar a ser buscadores; efetuar um treinamento, por assim dizer, a fim de fazermos jus ao título. E para fazê-lo seriamente precisamos encontrar uma pergunta e principiar a olhar, pois é dando a partida que começamos a descobrir realmente o papel do buscador e converter-nos no que ele representa.
Com que pergunta começaremos, pois? O que desejamos descobrir, ou encontrar? Se prestarmos um pouquinho de atenção, perceberemos alguma insatisfação; alguma coisa, sem dúvida, está faltando, alguma coisa precisa ser descoberta — e não parece tratar-se de alguma coisa completamente nova e desconhecida, senão de alguma coisa que perdemos, alguma coisa que nos pertencia mas desaparecida há tanto tempo, que nos esquecemos de que já foi nossa. Uma espécie de “acorde perdido” que ainda ressoa em nós em determinados momentos, nos quais afirma a inteireza da nossa identidade.
No âmago de todas as tradições existe o reconhecimento dessa perda e sua possível restauração, um reconhecimento da volta à unidade como o destino do homem. A Queda e o exílio do Éden falam nisso, como fala nisso o regresso à casa do filho pródigo; a maravilhosa dança circulai dos dervixes Mevlevi, as palavras dos Upanixades: “Quando eu for daqui, obtê-lo-ei”. Regressar é o anseio humano básico. O Paraíso é o lar perdido do homem, tio distante no tempo e no espaço, tão diametralmente oposto às suas realidades cotidianas, que ele só pode esperar regressar em outra vida, em outro mundo.
No plano de um só nível de existência, onde quase todos nós vivemos a maior parte da nossa vida, a visão de um destino transformador, uma reunião entre mim e mim mesmo, tem de ser abandonada ou reduzida a um sonho infantil de alguma existência purificada e ideal na outra margem da morte. Qualquer conexão com uma ideia de outro nível terá de tornar-se imaginária, se partir de um plano de ideias dominado pelo dogma científico de que tudo há que ser medido por meios físicos, em termos das nossas funções mais primitivas. Por meio dessa tendência reflexiva dirigida para baixo, o mais alto se torna o mais baixo, o mais se converte no menos. É essa casta de reflexão que considera o simbolismo das tradições religiosas e da arte sacra mera ilustração da nossa experiência corporal, em lugar do que realmente é: representação viva da verdade que a nossa experiência reflete em parte apenas. Precisamos tomar cuidado em não confundir a reflexão com o fato, como os habitantes da caverna de Platão, que reputam inconteste a suposição de que suas opiniões limitadas constituem toda a possibilidade da vida e do ser humano. Se desconfiarmos de que há mais, e o desejarmos, teremos de descobrir um meio de acesso a esse mais.
Os mitos da criação mostram que o homem foi produzido da inteireza de Deus numa forma incompleta: “Ele criou o macho e a fêmea” e, no mito maia, os deuses, vendo que o homem original era quase perfeito demais, sopraram névoa em seus olhos a fim de toldar e limitar a sua visão. Os cristãos chamam à incompletude humana “pecado”1 — em inglês “sin”, palavra cuja raiz é a mesma da palavra to be (ser) (o es indo-europeu, cujo particípio é sont); mas os mais sábios dentre eles, com Santo Agostinho, também lhe chamam “bendita”, pois a incompletude do ser humano é a sua possibilidade de vir a ser. Essa incompletude, ou “imperfeição”, o coloca “um pouquinho abaixo dos anjos” e, não obstante, lhe dá um potencial mais elevado, visto que ele é capaz de tornar-se não só filho de Deus mas também seu servo.
Mas como se completará o potencial humano? O que de fato somos é incompletação, fração dividida entre a admiração de si mesma e a autopiedade. Às vezes, essa coleção fortuita, satisfeita consigo mesma tal como é, iludida por suas aparentes consecuções e confiante nos êxitos futuros, frustrada por seus malogros igualmente acidentais, recrimina-se a si e aos outros numa agonia de pessimismo; sempre antes ou depois dos próprios eventos. Ou talvez em certas ocasiões esses fragmentos cheguem mais perto uns dos outros e do instante presente e haja uma visão momentânea de capacidades não desenvolvidas, de território inexplorado, de paisagens desconhecidas que, apesar disso, lembram alguma coisa esquecida — e a saudade do Paraíso recomeça. Ali estão a ravina e a necessidade de transpô-la; vemo-nos presos entre as Rochas Colidentes das nossas próprias contradições — as nossas Symplegades pessoais. Essa é a experiência humana, e por toda parte encontramos os símbolos do nosso transe em todo o seu terror e em toda a sua esperança. E então, se o nosso desejo de totalidade for o começo de uma busca verdadeira e não simplesmente outra canção de autopiedade, não olharemos para as imagens do mito e do símbolo como descrições poéticas, senão como mensagens codificadas que poderiam ajudar-nos a enfrentar o perigo e, porventura, como os heróis míticos, a superá-lo.
Essas “formas de revelação que Deus em Sua misericórdia criou”, descritas como símbolos por um artista do século XVII, são várias na aparência, porém inevitavelmente interligadas por haverem coexistido originalmente na mente de Deus. O processo de transformação do fragmento que é o homem na totalidade da sua origem, seu possível retorno à casa do pai, é uma passagem arriscada: entre “as rochas que batem palmas juntas” (ou os icebergs, ou as portas de ferro corrediças que caem, ou os Juncos Cortantes ou seja lá o que for, dependendo do momento e do lugar onde foi reformulado); galgando os galhos da Árvore Sagrada, ou os degraus da Escada que alcança o Céu, através do labirinto de Minos, ou de um lado a outro da ponte de arco-íris dos Navahos e das lendas escandinavas. É uma constante recitação do irrito do vir-a-ser do homem, um vir-a-ser que não acontece mas precisa ser atingido. É a busca do ser humano típico, do homem das ruas, mas apenas possível ao buscador e ao herói:
A ponte mítica e os perigos da sua travessia reaparecem reiteradamente. A ponte do arco-íris dos deuses nórdicos de O Edda em prosa era “de três cores e muita força, feita com mais astúcia e arte mágica do que qualquer outra obra de artesanato; entretanto, terá de ser quebrada quando os filhos de Muspell tiverem de partir para o saque cavalgando-a”. A do arco-íris atravessado pelos irmãos Navahos, os Matadores dos Deuses inimigos, ao contrário, era tão frágil que os deuses precisavam endurecê-la com o seu hálito para que os heróis não escorregassem por ela. Lancelot caminhou sobre o fio de uma lâmina de espada para chegar ao país em que sua dama se achava cativa. Bodhidharma cruzou o oceano da transmigração sobre um caniço. Poder-se-ia citar um sem-número de exemplos, mas o que nos dizem eles realmente? Mais interessante do que as várias formas da própria ponte é o modo como é cruzada.
Dizia-se, na tradição masdeísta, que a Ponte de Chinvat se projetava do pico de uma montanha, o pico do julgamento, ao centro do mundo, e sobre essa ponte se decidia o destino final da alma, pois a mesma só podia ser alcançada após a morte. À entrada da ponte a alma boa encontra o anjo que é a sua identidade verdadeira e final; mas a alma iníqua encontra uma criatura medonha e é possuída por ela. Surgem aqui algumas perguntas muito interessantes. De que espécie de “morte” estamos falando? Pois parece muito difícil que a ponte seja alcançada de algum modo automático ou acidental. Está “no centro” e “no pico de uma montanha”, segundo a descrição mítica, o alvo da busca do herói; e o herói, sem dúvida, venceu e vive. Assim, que sentido tem aqui a “morte”?
Referindo-se a mitos hindus semelhantes em seu ensaio definitivo sobre a Ponte Perigosa, diz Luisa Coomaraswamy (esposa de Ananda Coomaraswamy): “Não é apenas numa vida futura que o fim da estrada pode ser alcançado; as praias não passam de um tiro de seta à parte, se soubermos o que é uma ‘seta’ e como deve ser ‘solta’.” (“The Perilous Bridge of Welfare”, de Luisa Coomaraswamy, Harvard Journal of Asiatic Studies, 8:2 (agosto de 1944): 196-213.) A autora refere-se também a uma história da África ocidental em que um homem cria uma ponte mágica com uma cadeia de setas, que dispara alternadamente nas praias próximas e nas distantes; e à correspondência dessa história com lendas indígenas americanas de escadas que chegam ao céu, criadas de maneira semelhante. Qual é, de fato, a natureza de uma seta desse tipo? É como a do mestre japonês da arte de manejar o arco, que ordenou ao seu melhor aluno que derrubasse uma estrela com uma flechada, e em seguida sobrepujou o feito fazendo a mesma coisa sem usar nem seta nem arco? Essas “setas” sugerem indiretamente outra espécie de velocidade, direitura e poder, uma atividade “mágica” que não pode ser propriedade do funcionamento ordinário, senão daquilo que só aparece quando o funcionamento ordinário e seu senhor, o ego humano, já não estão dando as cartas. Deste modo, essas histórias talvez revelem, por implicação, outra casta de morte — não a do corpo, que chega para todos, mas a do ego, só lograda por poucos?
Mas neste ponto precisamos ser muito cuidadosos, pois o que significa “o ego deve morrer”? E, por certo, um equívoco e uma diminuição do símbolo pensar na “travessia” como o abandono de uma espécie de ser a fim de passar para outro “melhor”. Que é o que podemos abandonar se procuramos a nossa própria totalidade? Não consigo imaginar a possibilidade de atingir um ser transformado com o simples acrescentamento das nossas virtudes e a abolição dos nossos vícios; e se por “ego” pretendemos caracterizar a nossa egoística natureza humana, nunca poderemos (felizmente) livrar-nos dele. Somente o que tem uma existência ilusória pode ser descartado sem perda para o todo. Mas se “ego” significa, para nós, a importância imaginária que a minha pessoa dá a si mesma, a mentira que ela conta chamando-se “eu”, essa, com efeito, é uma imagem cuja “morte” se impõe, a fim de que eu possa tornar-me verdadeira e totalmente o que sou. Essa fantasia precisa desaparecer. A egoística natureza humana, entretanto, não deve ser “morta”, pois tem de subsistir para ser absorvida pela outra natureza, até agora subjugada pelo sono; precisa ser transmudada na força e na substância necessárias ao estabelecimento da supremacia legítima do Outro. Na verdade, o ego, de certo modo, é até o salvador desse Outro, que necessita, não só da força e da substância do ego, mas também de suas próprias dificuldades, erros e inadequações a fim de despertar e responder.
Uma versão da Ponte de Chinvat passou da ensinança zoroastriana para o folclore islâmico como a ponte íngreme e estreita sobre o Inferno, chamada Sirat, em que os maus não conseguiam firmar-se e mergulhavam no abismo, mas uma descrição citada pela Sra. Coomaraswamy diz que “se o falecido puder dar as respostas certas às perguntas que lhe são feitas no túmulo, uma porta do Paraíso se abrirá para ele e será conduzido à ponte e guiado sobre ela por um anjo, e a ponte lhe parecerá tão suave e plana quanto a palma da mão”. Eu a compararia a uma obra muito mais recente, ainda totalmente fiel ao mito, o The Garden Behind the Moon, de Howard Pyle. O menino David, herói da história, faz a viagem de sua aldeia natal, onde é desprezado e escarnecido como ingênuo e tolo, ao Outro-mundo da lua e seu delicioso jardim e, finalmente, à outra passagem ainda mais terrível para a virilidade e as aventuras de um herói. Sua ponte sobre o mar a caminho da lua, no início da jornada, é a trilha da luz que a lua recém-surgida, em sua plenitude, projeta sobre as ondas; nesse exato momento ele precisa pôr o pé no fio de luar que saracoteia no topo de uma onda e saltar para a seguinte, sem medo. A primeira tentativa não dá certo e quase se afoga; na segunda, porém, consegue pular de uma onda para outra até ver-se num caminho largo, de cascalho de prata, em que pode correr facilmente.
As duas histórias parecem indicar alguma coisa sobre o modo com que a ponte há de ser atravessada; uma nota aqui soa em harmonia com a nossa própria experiência. Há uma escolha a fazer, e parecemos conhecer o gosto dessa escolha — uma “resposta certa”, uma recusa de fraqueza que traz um momento de certo conhecimento, e a estrada se torna “plana” e fácil de percorrer. Mas sabemos muito bem que o preço disso precisa ser pago; nós também, como David, engasgamos na água salgada. O acesso à ponte nunca é fácil. No mito zoroastriano, temos de escalar a montanha no centro do mundo, e passar pela morte antes que, à entrada da Ponte de Chinvat, à alma tornada perfeita se junte o que Henry Corbin chama o seu “eu celeste”. Todos os ensinamentos da ponte falam em dificuldade e sofrimento, pois a ponte, naturalmente, está dentro de mim; é, na verdade, eu mesmo, se eu puder conformar-me com o processo e assumir o risco de situar-me “no meio”. “Quem quiser ser Chefe, seja a ponte”, diz o Mabinogion; e para ser Chefe não precisamos de mais seguidores além dos nossos eus descontrolados. É só dentro disso que se pode travar a batalha, fazer a escolha, vencer as falsas imagens e encarnar o buscador; e enquanto o buscador não vem, o anjo espera debalde sobre a ponte. Somente quando o buscador e o anjo se dão as mãos começa a travessia.
Dizem-nos que, transposta, a ponte precisa desaparecer para quem a transpôs, tal como o Buda ordenou ao viajante que esquecesse a jangada ao chegar à outra praia. O fato de precisarmos de uma advertência dessa ordem é prova da facilidade com que confundimos o interior e o exterior. A travessia está dentro de nós, está em movimento e é instantânea, como a ruga da seta, como o salto de David de uma onda para outra, no instante em que a lua surge. Só existe naquele momento fora do tempo que é o agora, entre o era e o será; ela mesma é a ponte de uma realidade diferente, mais verdadeira, entre a nossa visão ordinária do tempo que se foi e do tempo que virá — o sentido do tempo da nossa vida cotidiana em que até o hoje nada é senão em parte passado e em parte futuro. O presente é um momento, um lampejo que escapa à nossa percepção sempre lenta do ego, que existe apenas para a ligeira intuição da seta pertencente ao próprio buscador. É natural, portanto, que a ponte desapareça depois de feita a travessia; já não é necessária, pois as duas praias se juntaram e a separação também desapareceu. O herói tornou-se inteiro. Não deixou um mundo pelo outro, mas descobriu que um é parte do outro e, na relação libertadora, desfez-se de todos os limites e divisões.
A definição do pecado (hamartia) implícita em sua etimologia é confirmada pelo fato de que “imperfeito” significa literalmente “inacabado” ou “incompleto”. O significado original de “pecado” nesse sentido propicia uma interpretação diferente — e mais compreensível — de Paulo I Coríntios, 15,56: “O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.” ↩